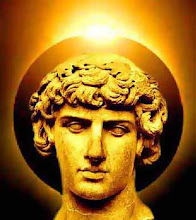Deolinda e o rádio de pilhas | |
|---|---|
Foi no ano do terramoto. Lembro-me como de um presságio, porque os pôr de sol eram vermelhos como sangue ao fim da tarde e os homens queixavam-se que os ouriços da maré estavam vazios e as navalheiras sabiam a fénico. Eu já tinha entrado para o colégio e sentia-me um homem por fumar cigarros às escondidas do meu pai e ouvir o "Je t’aime moi non plus" do Gainsbourg e da Jane Birkin, num gira-discos portátil, a que ternamente chamávamos de frigideira, que arrancava a impulso manual e depois continuava a rodar por força da inércia, das pilhas ou da areia acumulada no interior, nunca o soubemos muito bem. Abria a janela do meu quarto de par em par e enchia a rua e a paciência dos vizinhos de melodias dos Herman Hermits e das canções melosas do Cliff Richard e a sua mocidade em férias. Era um tempo sem tempo aquela janela onde o sol vinha despedir-se com um calor manso que fazia rescender o perfume do óleo de cedro nas madeiras aquecidas dos móveis e o odor balsâmico da cera nos soalhos brilhantes. E eu ficava em silêncio à janela a mirar o astro no seu declínio sereno rumo ao horizonte provável e as nuvens que sem rumor, misturavam as cores da paleta universal numa orgia de tonalidades mágicas, maviosíssimas, que a linguagem humana ainda não sabia nomear, quase desmaios de uma beleza virgem, uma urgência de não ser, enquanto o passaredo alvoroçado, numa vertigem de liberdade, cortava o ar num sussurro acrobático de penas. Foi nessa tarde que conheci esse pequeno duende que surgira do nada numa pequenina saia de chita às flores como uma borboleta aos trambolhões no vento. Fiquei a olhar aquele pequeno personagem que não fazia parte habitual da placidez da minha intimidade. Era nova por ali. Ela olhou para cima, para a janela e bateu as mãos e dançou de uma maneira tão cómica que desatei a rir. Fiquei a saber então que tinha uma fã incontroversa da música da minha janela. Chamava-se Deolinda, dissera a minha mãe mais tarde, e a família tinha vindo do Algarve para trabalhar na Fábrica de Conservas. Como toda a gente trabalhava e ela ainda era muito pequenina ficava por ali o dia inteiro a brincar com os cães vadios e a fazer recados às vizinhas por um pirolito de pinhão. Fora por certo tocada por alguma fada benfazeja porque a sua pequena cara esperta coberta de madeixas louras como um espanador de ventos guardava um permanente sorriso e um olhar loquaz, como os cães quando colocam a cabeça de lado e levantam as orelhas para nos olhar com curiosidade animal. A partir daí, todas as tardes, mal ouvia a música sair da janela do meu quarto, lá vinha a pequena Deolinda no seu vestidinho de chita às flores dançar no meio da rua. Sempre o mesmo vestido de chita e as mesmas sandálias cambadas e o mesmo cabelo de espanar as estrelas e o mesmo sorriso de cão curioso. Era uma criaturinha muito bela cuja pobreza lhe entregara um mundo apenas de sorrisos e esperanças. Mais nada. Não sei porquê, talvez a idade, a escola… de repente deixou de aparecer. Minha mãe disse-me que a vizinha, mãe da Deolinda, falecera de tuberculose e que se tinham mudado para outro lado da vila, para uma casa mais barata, porventura uma barraca. Nunca mais pensei na Deolinda nem no seu vestido de chita e os anos foram passando. Muitos anos, quase uma vida inteira. Uma vez, na esplanada de um café, enquanto bebia a minha bica e lia o jornal senti que alguém me observava. Daqueles sentimentos que não sabemos explicar mas que nos incomodam. Olhei em volta quase automaticamente mas não conheci ninguém. Apenas uma criatura me fitava de longe, da esquina da rua. Era uma moça muito magra, espartilhada numas calças de couro negro e uma camisa roxa que já vira dias melhores e um cabelo louro despenteado a precisar urgentemente de um banho. Encostava-se à esquina da rua com displicência acrobática sobre umas botas de camurça de saltos altíssimos enquanto compunha a imagem para o mundo enrolando uma boa de penas de avestruz mal tingida e com melas de calvice a enrolar-se como uma cobra raquítica à volta do pescoço escanzelado. Era uma figura extraordinária, sobretudo para a hora do almoço na esplanada de um café. Ela enfrentou a análise do meu olhar com ostensivo desafio e mirou-me desdenhosamente do fundo daquele poço negro onde incrustrara duas pequenas contas brilhantes e inquietas a que chamava olhos. Costuma-se descrever os jovens como seres cheios de energia e vitalidade e força de viver. Do meu ponto de vista, a sua grande maioria, são criaturas lúgubres, deprimidas e meio zombies que caminham pela vida como se nos fizessem o enorme favor de aqui estar, por isso afastei o olhar daquela visão de assombro e voltei ao meu jornal. Foi então que algo me sobressaltou e me fez levantar os olhos de novo. Como se fora um gesto habitual a rapariga bateu as palmas, moveu-se da esquina da rua sobre as suas botas periclitantes, seguida de um grupo de mal vestidos e passou perto de mim naquela estranha procissão onde ela era sobejamente a rainha e, com um sorriso que mais parecia um esgar de dor debruado por duas postas de sangue dirigiu-me um olhar vivo e matreiro e, com um gesto de cabeça quase imperceptível, disse: "Boa tarde senhor Beatles!". Por qualquer razão desconhecida, do fundo da minha memória, surgiu-me uma pequena criatura de saia de chita, com os olhos a brilhar de contentamento a bater palmas e a dançar no meio da rua. Fiquei siderado com o jornal pendente sobre a mesa a olhar aquele grupo que desaparecia na luz ofuscante da tarde. Era a Deolinda! Via-a por várias vezes no desamor das tardes solitárias de café, umas vezes cambaleante, outras eufórica e descontrolada mas não mais voltou a cumprimentar-me ou sequer a dar pela minha presença. As suas botas tornaram-se cambadas, uma perdera um salto que ela transportava na mão como um criança abandonada, a boa de penas de avestruz ficara cada vez mais calva e o cabelo empapara-se em óleo e porcaria. Um dia perguntei a alguém ao meu lado quem era aquela personagem que viera assombrar os meus dias de memórias improváveis e disseram-me que era uma traficante que parava nas rotundas a vender tudo o que realizasse algum dinheiro à custa do seu corpo destruído pelo vício. Cheguei mesmo a visitar um bar muito na moda entre os jovens onde ela era seguramente a estrela principal. Ali chamavam-lhe Dolly Califórnia e a sua decadência cada vez mais visível tornara-se incómoda como uma descida aos infernos anunciada. Um dia, quando voltava a casa, ao passar por um parque de estacionamento, via sentada no chão, tinha acabado de vomitar. Não consegui ignorá-la e aproximei-me para perguntar, "tu és a Deolinda, não és?" Ela olhou-me de um local qualquer que já não era deste mundo, com a maquilhagem borrada e a baba do vómito a cair-lhe sobre a camisa roxa rasgada, esboçou um sorriso como um esgar e disse: "sou eu, senhor Beatles". Todo o meu corpo se condoeu daquela desgraça como quando vemos um cão que acaba de ser atropelado e levamos para casa para tratar. Mas aquele universo não fazia parte do meu e, por descarga de consciência, depositei umas moedas na mão que se estendia sem vergonha. Um sentimento de culpa lancinante como uma lâmina atravessou o meu coração. Afastei-me sem saber porque haveria de me sentir assim, tinha vergonha por ela, tinha vergonha por mim, um universo de sentimentos intempestivos varrera a minha alma como uma ventania e não sabia o que fazer, não sabia o que pensar. Fiquei a vê-la, debruçada sobre si mesmo, a contar as moedas para o próximo "fix" e os meus olhos ficaram rasos de água. Nunca mais passei pelo parque de estacionamento nem nunca mais fui àquele bar malfadado onde ela se passeava como uma princesa roubada do trono, expulsa da vida, numa procissão macabra que orgulhosamente mostrava aos outros o caminho. Vieram-me dizer, tempos mais tarde que tivera uma overdose e estava terminal. Por fim, morreu. No funeral, tristíssimo, composto por três ou quatro velhas faladoras e meia dúzia de cães sarnentos, ouvi os comentários. Dissera à enfermeira que quando morresse, lhe pusesse dentro do caixão um rádio de pilhas a tocar porque não sabia para onde ia, mas se fosse para a mesma solidão em que vivera aqui, preferia o som de um rádio de pilhas para não se sentir tão sozinha. E a enfermeira cumprira a promessa. autor João do Ó Pacheco |